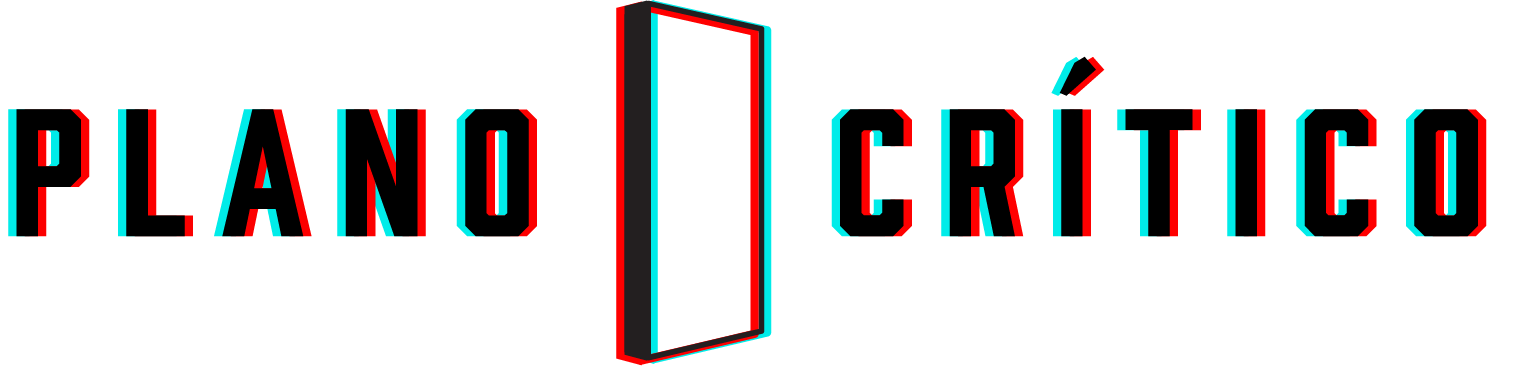Elucidativo e objetivo, Frankenstein: Mito e Filosofia é uma publicação do filósofo francês Jean-Jacques Lecercle que explora detidamente não apenas a narrativa de Mary Shelley em seus elementos literários, mas também as suas implicações filosóficas, morais e sociais, colocando o monstro e seu criador em um contexto mais amplo de reflexão sobre a condição humana e as relações entre ciência, ética e criação. O livro de Lecercle divide-se em várias seções, cada uma abordando um aspecto diferente do relacionamento entre Victor Frankenstein e a criatura que ele trouxe à vida. Lecercle começa com uma introdução ao contexto histórico e cultural da época em que Shelley escreveu seu romance, destacando o impacto da Revolução Industrial e as novas teorias científicas que desafiaram as concepções tradicionais sobre a vida e a mortalidade. Este ambiente de mudança é fundamental para a compreensão do dilema enfrentado por Frankenstein. Uma das questões centrais discutidas por Lecercle é a relação entre o criador e a criação. Victor Frankenstein, consumido pela ambição de descobrir os segredos da vida e da morte, atua como um deus em sua busca por conhecimento. Lecercle argumenta que o ato de criar, no caso de Frankenstein, revela não apenas a curiosidade intelectual, mas também um profundo egoísmo e falta de responsabilidade.
Quando a criatura ganha consciência e busca aceitação, Frankenstein recusa-se a assumir a responsabilidade por sua própria criação. Este abandono é visto como uma metáfora das falências humanas em enfrentar as consequências de suas ações, especialmente em um mundo cada vez mais dominado pela ciência e pela tecnologia. O autor também destaca a figura do monstro como um símbolo da alienação e do desejo de pertença. A criatura, que é inicialmente inocente e em busca de amor e compreensão, é rejeitada pela sociedade devido à sua aparência grotesca. Lecercle sugere que essa rejeição é um reflexo das vulnerabilidades humanas e das falhas em aceitar o diferente. A busca da criatura por um lugar no mundo e sua eventual transformação em um ser vingativo expõem as consequências da marginalização e da falta de empatia. Outro aspecto importante discutido por Lecercle é a crítica à ciência e à busca desenfreada pelo conhecimento sem considerar as implicações éticas. O autor relaciona os temas de Frankenstein nos traz para debates contemporâneos sobre biotecnologia, engenharia genética e as fronteiras da ciência, por meio de um jogo interessante entre questões do passado e pontos do presente. O tempo “presente”, por sinal, é a década de 1980, época da tessitura de sua publicação, num contexto que dentro dos pontos destacados, ainda continua relevante para pensar o contemporâneo, isto é, o aqui e o agora, em 2024.
Lecercle argumenta que a obra de Shelley poderia ser vista como uma advertência sobre os perigos de ultrapassar os limites da moralidade e da ética em nome do progresso científico. Ao desenhar paralelos com os dilemas modernos enfrentados por cientistas e pesquisadores, o autor reforça a relevância contínua da obra. No decorrer de Frankenstein: Mito e Filosofia, Lecercle também aborda questões de gênero, analisando a própria Mary Shelley como uma mulher escritora em um período dominado pelo patriarcado. Ele argumenta que a criação de Frankenstein pode ser interpretada como um ato de resistência às normas sociais da época, dando voz a preocupações que transcendem o gênero. O monstro, então, pode ser visto como uma figura que desafia as expectativas sociais, simbolizando também o potencial destrutivo que reside tanto nas criações masculinas quanto nas questões não resolvidas de identidade e aceitação. Como parte de sua análise, Lecercle delineia as implicações psicológicas de Frankenstein, discutindo a dualidade entre o bem e o mal, e como isso se reflete nas ações de ambos os personagens centrais.
A criação de Frankenstein, que se torna uma representação de sua própria ambição desmedida, levanta a questão de até que ponto o homem é responsável por suas criações. Essa reflexão sobre o eu e o outro, e como essas identidades se inter-relacionam, permite que os leitores reexaminem não apenas a moralidade da ficção de Shelley, mas também suas próprias vidas e decisões. Publicado em 1988, Frankenstein: Mito e Filosofia é um livro bastante interessante, uma das bases para muitos estudos acadêmicos sobre a narrativa gótica de Mary Shelley. Devidamente organizada em capítulos fluentes, a escrita de Jean-Jacques Lecercle é acessível, um trabalho cuidadoso da tradução de Rosa Amanda Strausz para a edição veiculada pelo grupo José Olympio. No texto, o filósofo traça ilações entre o romance de Mary Shelley com Paraíso Perdido, de John Milton; Fausto, de Goethe; e com o livro de Gênesis, o relato preambular das narrativas bíblicas, além de se aprofundar na mitologia ao retratar a trajetória errante de Prometeu. Ademais, como praticamente todos os estudos encontrados até então em língua portuguesa focam nesses aspectos do romance de Shelley, é com frescor que observamos uma das poucas conexões entre a narrativa e os desdobramentos da Revolução Francesa, uma das melhores passagens do livro que se estabelece como breve, mas muito esmiuçado no desenvolvimento de suas ideias aparentemente complexas, mas trabalhadas com didatismo.
A Revolução Francesa, datada pelos livros didáticos de História entre 1789 e 1799, trouxe profundas transformações sociais, políticas e culturais na Europa, e seus ecos podem ser encontrados em diversas narrativas literárias da época, sendo Frankenstein uma dessas ressonâncias não necessariamente diretas, segundo Jean-Jacques Lecercle. Uma das questões mais proeminentes do movimento em questão foi a luta contra a tirania e a busca pela autonomia do indivíduo. A Revolução representou uma insurreição contra as estruturas hierárquicas e despóticas da monarquia e a promoção dos direitos humanos. No romance, Victor Frankenstein pode ser visto como um novo Prometeu, que, em sua busca por conhecimento e poder, desafia as barreiras naturais. No entanto, essa ambição traz consequências desastrosas, refletindo as tensões da época entre a busca pela liberdade e os perigos do excesso de racionalidade e a desconsideração dos limites éticos. O monstro, criado por Victor, simboliza as consequências não intencionais das inovações humanas, uma ideia muito presente no debate pós-revolucionário sobre a responsabilidade individual diante da liberdade. Outro aspecto relevante da Revolução Francesa é a ideia da coletividade versus individualismo. A Revolução, embora inicialmente impulsionada por ideais de igualdade e fraternidade, também gerou um prolongado período de instabilidade e terror que levou à reflexão sobre o verdadeiro sentido de liberdade. Em Frankenstein, o monstro representa a alienação e o isolamento, questionando o que realmente significa ser humano e pertença a uma sociedade. O monstro, embora criado, é rejeitado pela sociedade devido à sua aparência, o que leva a uma reflexão crítica sobre como a sociedade aceita ou marginaliza aqueles que não se encaixam nos padrões estabelecidos. Ao mesmo tempo, Victor Frankenstein se torna também o símbolo do indivíduo isolado em sua própria ambição, impossibilitado de ter um lugar no mundo que ajudou a criar.
Além disso, a busca por conhecimento científico e suas repercussões mora em um dos dilemas centrais da Revolução Francesa, onde o avanço social, juntamente com o político, parecia intrinsicamente ligado aos avanços científicos. O iluminismo, que precedeu a Revolução, propôs a ideia de que a razão e o conhecimento poderiam iluminar a sociedade e libertar as pessoas dos grilhões da ignorância. Entretanto, Frankenstein critica essa fé absoluta na razão. A criação do monstro por parte de Victor se torna um símbolo do lado negativo do conhecimento. O que deveria ser um avanço, isto é, a capacidade de criar vida, acaba em resultados catastróficos, mostrando que o conhecimento sem uma moralidade ou ética subjacente pode levar à destruição e ao sofrimento. Esta crítica está imersa nas desilusões que emergiram após a Revolução, onde os ideais de liberdade e progresso se chocaram com a realidade da opressão e do terror. O livro de Mary Shelley, como qualquer composição literária, também reflete as ansiedades existenciais da sua época. A Revolução Francesa gerou uma série de novas questões sobre identidade, moralidade e responsabilidade, com muitos se perguntando: qual é o papel do indivíduo no destino da sociedade? Frankenstein explora essas questões ao apresentar Victor e seu monstro como reflexões de como nossas escolhas podem afetar o coletivo. O desejo de transcender as limitações humanas leva tanto à criação quanto à destruição, e o afastamento da responsabilidade ética pelo que criamos repercute nas tensões que emergiram após a Revolução. Essas não são ideias exatas dispostas por Jean-Jacques Lecercle, mas foi o que se estabeleceu durante a leitura enquanto os conhecimentos gerais de quem vos escreve se conectaram com as linhas desenvolvidas pelo autor sobre as ideias do romance em consonância com esse que foi um dos momentos históricos mais proeminentes do advento da modernidade.
Em linhas gerais, um livro não apenas para estudiosos de Mary Shelley, mas também uma ilustração de como um texto acadêmico pode ser acessível, saindo dos muros muitas vezes feudais do território científico para informar ao maior número de pessoas.
Frankenstein: Mito e Filosofia (Frankenstein: Mythe Et Philosophie/França, 1988)
Autoria: Jean-Jacques Lecercle
Tradução: Rosa Amanda Strausz
Editora: Jose Olympio
Páginas: 122