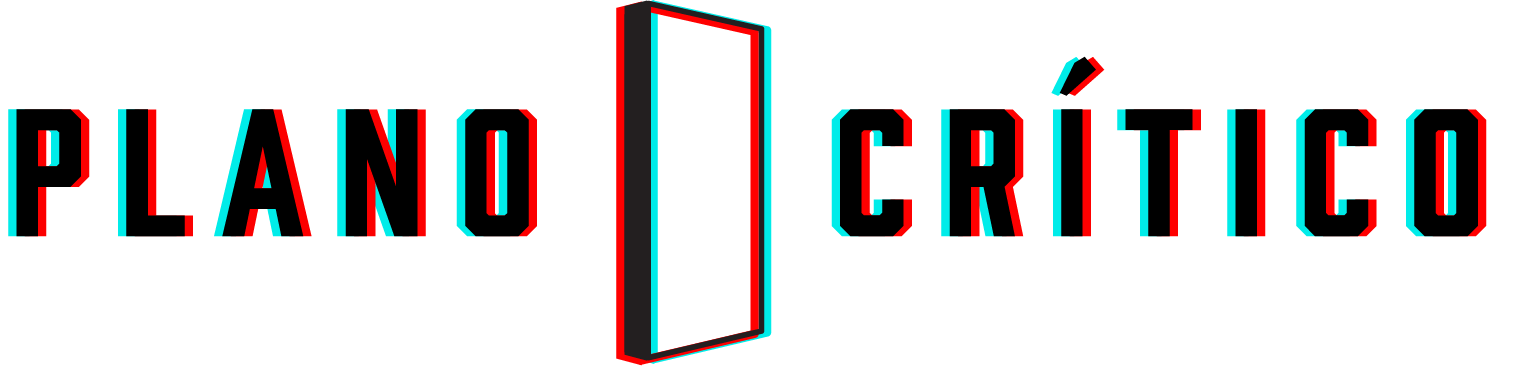O livro que lançou H. G. Wells ao mundo, A Máquina do Tempo é um clássico definidor de diversos conceitos e convenções da ficção científica, em especial, claro, de narrativas sobre viagem no tempo, que foi popularizada por este livro, que, inclusive, difundiu o termo atualmente usado em qualquer história dessa ordem. De início, somos apresentados ao protagonista, denominado apenas de “O Viajante do Tempo”, um cientista da Era Vitoriana que afirma ter criado uma máquina do tempo, orgulhosamente divulgando-a para os seus colegas – todos nominados com suas profissões – durante um jantar. Depois de uma semana, o grupo se reúne novamente para ouvir a grande jornada do protagonista, recontada pelo mesmo com tremendo entusiasmo.
O começo da obra tem um sabor de descobrimento que agarra o leitor rapidamente, com a animação contagiante do protagonista atiçando a curiosidade em torno de suas explicações da máquina, das suas fórmulas matemáticas, da Quarta Dimensão e da natureza do tempo – inclusive, os trechos da viagem em si são fantásticos, quase cinemáticos e facilmente idealizados em nossa mente. O autor sabe como ser técnico sem ser prolixo ou hermético, utilizando determinados jargões mais para dar um senso de imaginação do que necessariamente para soar chique. As descrições vívidas continuam quando o viajante passa a relatar suas experiências no futuro, particularmente no ano de 802.701 d.C., onde encontra dois tipos de descendentes humanoides: os Elóis, um grupo pueril e pacífico que, aparentemente, vive sem qualquer tipo de preocupação; e os Morlocks, que sobrevivem no subterrâneo como párias, todos agressivos e selvagens.
Logo de cara, gostaria de dizer que tenho um certo questionamento sobre a abordagem de H. G. Wells em escrever toda a obra através das narrações do protagonista para seus convidados. Pode ser impressão minha, mas sinto que o estilo aqui atrapalha um pouco a fluidez e a imersão narrativa, que poderiam ser mais orgânicas se estivéssemos acompanhando o viajante durante seu descobrimento e não contando-o para nós. Dito isso, o autor ainda assim tem uma destreza, um tom delicioso de “itinerário sci-fi” e uma qualidade descritiva que constrói com claridade e detalhes ricos esse futuro ao mesmo tempo paradisíaco na superfície e sombrio à medida que aprendemos sobre a degeneração social dos dois grupos e da humanidade, em um olhar futurista que contém diversas fundações do que vemos hoje em obras utópicas e distópicas.
Quanto mais o viajante aprende sobre essa realidade, mais entendemos o direcionamento sociológico de H. G. Wells, que está menos interessado nos paradoxos da viagem no tempo do que no desenvolvimento narrativo da evolução – ou regressão, dependendo do olhar e do contexto de determinadas momentos -, que ganha o palco de uma ficção científica especulativa sobre conflito de classes e o crescimento da civilização industrial, ambos claramente inspirados nos problemas do período de Wells, que traz um tom crítico e de denunciação no subtexto da aventura, com doses de visões políticas socialistas. O trabalho temático do autor é direto e simples – um termo melhor aqui do que superficial, que penso diminuir o tamanho da obra e do que Wells apresentou nessa época -, com correlações das duas raças para comentários sobre desigualdade e exploração.
A aventura em torno desses temas é envolvente, bebendo de elementos do “estranho na terra estranha”, com destaque para os trechos sobre as mudanças que o viajante causa nessa sociedade. A reintrodução do fogo ou a reapresentação do medo vêm à mente como momentos particularmente notáveis nesse sentido, dentre outros sobre a atuação do protagonista nessa natureza e o impacto desse contato entre eras. Tenho, porém, dois problemas conceituais com o livro que diminuem o peso dele para mim. O primeiro é a barreira linguística, com Wells se privando de um enredo mais estofado pela falta de comunicação – notem, por exemplo, como os comentários da obra partem majoritariamente do campo observacional e menos das interações sociais limitadas, que pouco chamam a atenção, como no núcleo um tanto entediante com Weena. O segundo é mais ameno, sobre a construção quase alienígena dos Elóis – que, não sei porquê, mas ficava imaginando-os como Ewoks – e dos Morlocks – que sempre me lembravam do grupo de mutantes da Marvel -, uma vez que me distanciaram da história em alguns momentos, tanto por não fazer lá muito sentido, quanto por levar alguns momentos da obra mais para o lado da fantasia e menos do “sci-fi social”.
Mesmo com essas ressalvas, é inegável que A Máquina do Tempo é um marco da literatura. Além de criativo e provocante, H. G. Wells desenvolve uma história de alerta que segue – infelizmente – pertinente, com seu futuro de Elóis e Morlocks refletindo o passado da época, o presente na data desta crítica e, provavelmente, o amanhã, seja pensando no futuro próximo, seja em 802.701 d.C., sem querer – mas já sendo – pessimista. Essa leitura da obra fica bem clara no fenomenal epílogo sobre a viagem ao fim dos tempos, que grita existencialismo e escatologia na cara do leitor, no que é uma reta final em partes moribunda, mas fascinantemente viva nas descrições absurdas do autor. Colocando o cinismo de lado, vale pensar que a obra é atemporal não apenas pelo que adverte, como também pelo que criou para as divertidas histórias de viagem no tempo.
A Máquina do Tempo (The Time Machine) — Reino Unido, 1895
Autoria: H.G. Wells
Editora original: William Heinemann
Editora no Brasil: Editora Principis (2020)
Tradução: Luisa Facincani
Páginas: 113