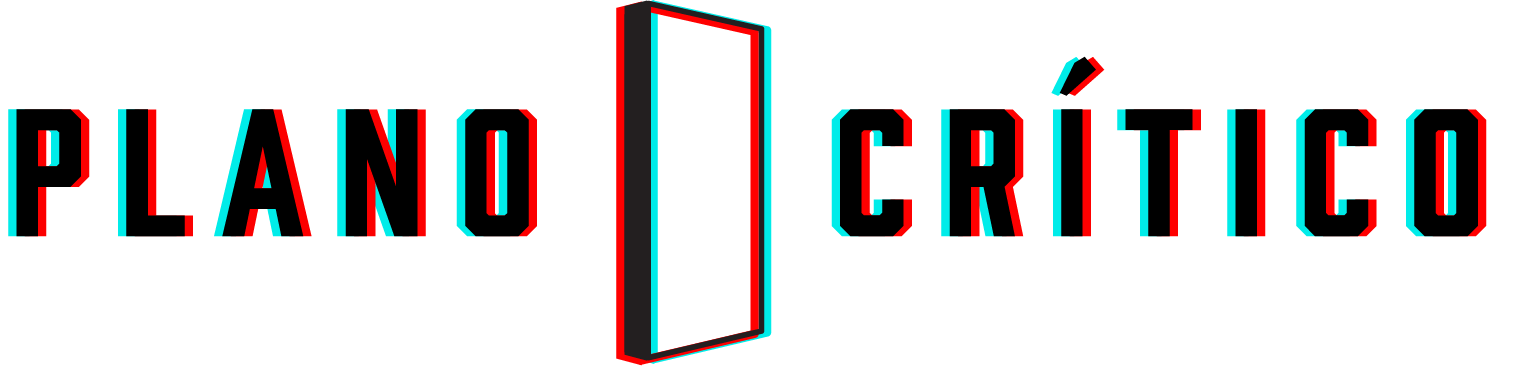Se o nome Federico Fellini é mencionado em qualquer roda de amigos, provavelmente em algum segundo posterior o título La Dolce Vita (muito mais conhecido assim no original do que por sua tradução literal para o português) também será falado, provavelmente precedido por “ah, ele fez…”. E é verdade. La Dolce Vita – perdoem-me, mas realmente acho o título em italiano bem mais sonoro, talvez por décadas de costume em ouvir desse jeito – é o filme a que Fellini é imediata e indelevelmente associado em detrimento a diversos outros anteriores e posteriores, especialmente Noites de Cabíria, sua obra imediatamente anterior e, em última análise, melhor por conseguir tratar do mesmo assunto de forma mais direta e econômica, ainda que isso não tire, de forma alguma, o brilho de La Dolce Vita.
Mesmo aqueles que nunca viram La Dolce Vita e que apenas vagamente se lembram de fotos da sequência de Sylvia (Anita Ekberg) na Fontana di Trevi, uma das mais famosas do cinema, farão essa conexão. E é uma pena que nem todos tenham realmente visto o filme, pois La Dolce Vita é uma obra atualíssima que trata do mito da celebridade, da vida vazia e sem rumo, da busca pela felicidade, do materialismo e de tudo mais que, hoje, para o mal ou para o bem, faz parte do dia-a-dia de muita gente.
No entanto, assim como falar da miséria pós-guerra era necessário para o entendimento completo de Noites de Cabíria, falar do Milagre Econômico da década de 50 e da própria vida de Fellini é essencial para entendermos a crítica por detrás de La Dolce Vita. Afinal de contas, como muitos devem saber, o personagem principal, Marcello Rubini, vivido por Marcello Mastroianni em um de seus grandes papeis, é uma expressão de uma faceta do próprio diretor.
Sobre o chamado Milagre Econômico, ele é intuitivo. Ele veio como resultado da reconstrução da Itália após a Segunda Guerra Mundial (que terminara em 1945), com investimentos em saneamento básico, moradia e tudo mais que tiraria o país do buraco em que estava. Mesmo tendo feito parte do Eixo, os Aliados viam na Itália um importante parceiro para impedir a propagação do Comunismo na Europa, o que os levou a investirem no país especialmente por intermédio do poderoso Plano Marshall. Como a Guerra do Coréia veio simultaneamente, a demanda por aço e instrumentos bélicos acabou retroalimentando a economia italiana, com o aumento de fábricas e metalúrgicas para ajudar os Estados Unidos e a Coréia do Sul na empreitada.
O resultado final foi um boom econômico na Itália e outros países europeus que se sustentou bem até o final da década de 60, com uma grande parte da população rural migrando para as cidades grandes. E, como é comum acontecer em situações como essa, a classe média surgiu e cresceu quase que instantaneamente e as classes mais abastadas ficaram ainda mais ricas. As artes – especialmente a Sétima – ganhou enorme foco nesse período e a Itália tornou-se uma espécie de centro cosmopolita de atores e atrizes do mundo inteiro tentando fazer uma nova Hollywood por ali, literalmente batizada de Hollywood sul Tevere ou, em português, “Hollywood sobre o (rio) Tibre”.
E Federico Fellini beneficiou-se diretamente dessa globalização e, com seu sucesso mundial (afinal, ele já era o feliz detentor de nada menos do que dois Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, por A Estrada da Vida e Noites de Cabíria), ele acabou se tornando um dos mais celebrados cineastas italianos. Sua liberdade criativa era basicamente infinita. Dinheiro não era problema e ele vivenciou em primeira mão o estilo de vida dos ricos atores e atrizes que faziam de Roma seu destino preferido.
Vendo tudo aquilo ao seu redor, que incluía fotógrafos sedentos por imagens exclusivas de artistas famosos, orgias, escândalos envolvendo strip-tease de dançarinas e atrizes e toda aquela vida de uma grande parte das celebridades sem freio, Fellini, com a ajuda de Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e Brunelo Rondi, além de Pier Paolo Pasolini (que não foi creditado), todos parceiros seus de outras empreitadas, escreveu um roteiro episódico, sem estrutura rígida narrativa que viria a ser La Dolce Vita, com o objetivo de mostrar essa decadência dos valores e de toda uma sociedade fútil, sem rumo e que procura a felicidade, mas tudo que encontra são momentos efêmeros de prazer.
Mas seu caminho na produção não foi fácil, apesar de todo seu poder como famoso diretor e seu primeiro obstáculo foi a escalação de Marcello Mastroianni, então relativamente desconhecido. Fellini queria de qualquer jeito o ator (afinal, era para representar o próprio Fellini!), mas o lendário produtor Dino de Laurentiis insistia na escalação de Paul Newman para conseguir investimento mais facilmente. O duelo entre os dois se manteve até que a situação forçou o produtor a vender os direitos do filme para Angelo Rizzoli (que, depois, também viria a produzir o incrível 8 ½, de Fellini) de forma que a queda de braço acabou com a vitória do diretor.
Usando Marcello (nome do personagem de Mastroianni para tornar a coisa bem pessoal), vemos em capítulos não necessariamente cronológicos e não necessariamente com nexo de causalidade, diversos momentos da vida de esbórnia dos ricos e famosos. Marcello não é só um observador, porém, mas sim um jornalista galanteador que transita muito bem nessa alta sociedade sem que ele mesmo faça parte dela. Com seu simpático carro esportivo (um Triumph TR3A, de 1958, para quem tiver curiosidade), ele vai de um lugar ao outro perseguido por seu colega fotógrafo Paparazzo, vivido por Walter Santesso (o nome é esse mesmo, que acabou se tornando sinônimo de fotógrafo de celebridades), para conseguir furos com os famosos, envolvendo-se com Maddalena (Anouk Aimée) e brigando com sua namorada/noiva Emma (Yvonne Furneaux).
Cada capítulo enfoca, em linhas gerais, os mesmos grandes assuntos, vistos sob diferentes lentes. E, logo na abertura, com uma enorme – e horrível – estátua de Jesus Cristo sendo levada de helicóptero para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e perseguida por Marcello e Paparazzo no helicóptero de trás, vemos a religião também se envolvendo na narrativa, algo que se repetiria no capítulo do “milagre da santa”, transformado em circo da mídia pelos jornalistas e a todo momento em detalhes aqui e ali durante a projeção.
Marcello é como as celebridades que entrevista e leva para a cama: um homem sem direção que quer achar a felicidade. Literalmente achar e não conquistar, mesmo sem que ele tenha sequer ideia de como ela é. Essa palavra – felicidade – é tão etérea e ao mesmo tempo tão perseguida, não é mesmo? Nunca sabemos o que é antes de a encontrarmos e teremos sorte se soubermos que a encontramos e mais sorte ainda se nos satisfizermos com ela, aprendendo a cultivá-la. Marcello pode achar que transar com Maddalena na cama de uma prostituta que mora em um sótão alagado é felicidade. Também pode achar ela está na conversa em família e com amigos em uma festa pseudo-intelectual. Ou, talvez, ao adular uma recém-chegada atriz estrangeira, com direito a banho na Fontana di Trevi.
Mas seja como for ou quem Marcello encontre, Fellini dá um jeito de mostrar o outro lado. A estonteante Sylvia pode ter tudo que precisa, mas sua vida pessoal é um caos. O mesmo vale para a vazia vida de Maddalena e para a desesperante vida da ciumenta Emma. O capítulo que trata de uma estranha festa noturna em uma enorme propriedade com direito à uma expedição a um castelo abandonado e uma sessão “paranormal” é, por exemplo, fortemente representativa do final de vida, da depressão da vida completamente sem objetivo. Se os antepassados dos donos atuais construíram tudo aquilo, só cabe aos atuais moradores lamentarem a ruína e o empalidecimento dos muros, jardins e corredores. Até mesmo o reencontro de Marcello com seu pai (Annibali Ninchi) – em segmento muito pessoal para Fellini, pois seu próprio pai morrera há pouco tempo – em nada adianta em sua busca, já que vemos que o pai é Marcello no futuro e ainda um homem que não encontrou nenhum semblante do que Marcello procura. E, em sequência de rachar o coração, vemos seu intelectual amigo pero non troppo, Steiner (Alain Cuny) morto depois de matar seus dois filhos pequenos.
Comentar cada um dos episódios em uma crítica de La Dolce Vita é altamente redundante e desnecessário. A fita é para ser vivida e, quando ela acabar, a experiência deve ser seguida de uma reavaliação pessoal sobre o que é realmente importante no dia-a-dia. Saber sobre a vida de uma celebridade é tão essencial assim? O que é ser um fã? O que é, afinal de contas, a felicidade? Essas e dezenas de outras perguntas são feitas por Fellini e, de certa forma, respondidas no último segmento, que tomarei a liberdade de comentar especificamente.
Mas, antes, em um interlúdio, vemos Marcello em um restaurante à beira da praia tentando escrever seu livro (logicamente, ele é um escritor frustrado, possivelmente sem talento algum) conversando com Paola (Valeria Ciangottini), a garçonete do local. Linda e inocente, os dois brevemente trocam algumas palavras – e Marcello só consegue ver sua beleza exterior – e ela não volta mais. Até o último capítulo.
Na última parte, que se passa provavelmente algum tempo depois das demais, pois Marcello está um pouco mais acabado, ele e diversos amigos participam de uma festa decadente, com direito ao proverbial strip-tease melancólico e uma série de eventos que mostram que o protagonista não alcançou aquilo que procurava, como, aliás, sabíamos que não alcançaria. Quando amanhece, ele e os demais festeiros são expulsos e vão para a praia em frente para ver um enorme peixe/arraia encarando a morte de olhos bem abertos, como é comentado. Em seguida, Marcello vê Paola, separada dele por um trecho de mar, mas gritando e gesticulando sem que ele consiga entender, já que as palavras se perdem no barulho das ondas.
Paola é o começo da vida, a pureza, o início da busca da felicidade. Marcello, no final dessa busca inócua, não pode/consegue/quer entender o que ela está dizendo ou gesticulando. Ele está no extremo oposto de tudo que a menina representa e o diálogo – uma vez possível – agora não o é mais. Assim como o leviatã morrendo na praia, Marcello encara a morte de sua inocência e de sua busca completamente infeliz e de olhos abertos, mas sem enxergar.
O sucesso gigantesco de La Dolce Vita, seguido de sua enorme repercussão negativa perante a classe artística e políticos de extrema direita (tão cegos como os da outra extremidade), que chamaram o filme de imoral e tentaram bani-lo, levou Fellini à psicanálise. E, mais uma vez, sua carreira mudaria. Mas isso fica para outra história.
- Crítica originalmente publicada em 12 de novembro de 2013. Revisada para republicação em 09/03/2020, como parte da versão definitiva do Especial Federico Fellini aqui no Plano Crítico.
A Doce Vida (La Dolce Vita, Itália/França, 1960)
Direção: Federico Fellini
Roteiro: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi, Pier Paolo Pasolini (não creditado)
Elenco: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, Alain Cuny, Annibale Minchi, Walter Santesso, Lex Barker, Jacques Sernas, Nadia Gray, VAleria Ciangottini, Riccardo Garrone, Ida Galli, Audrey McDonald
Duração: 174 min.