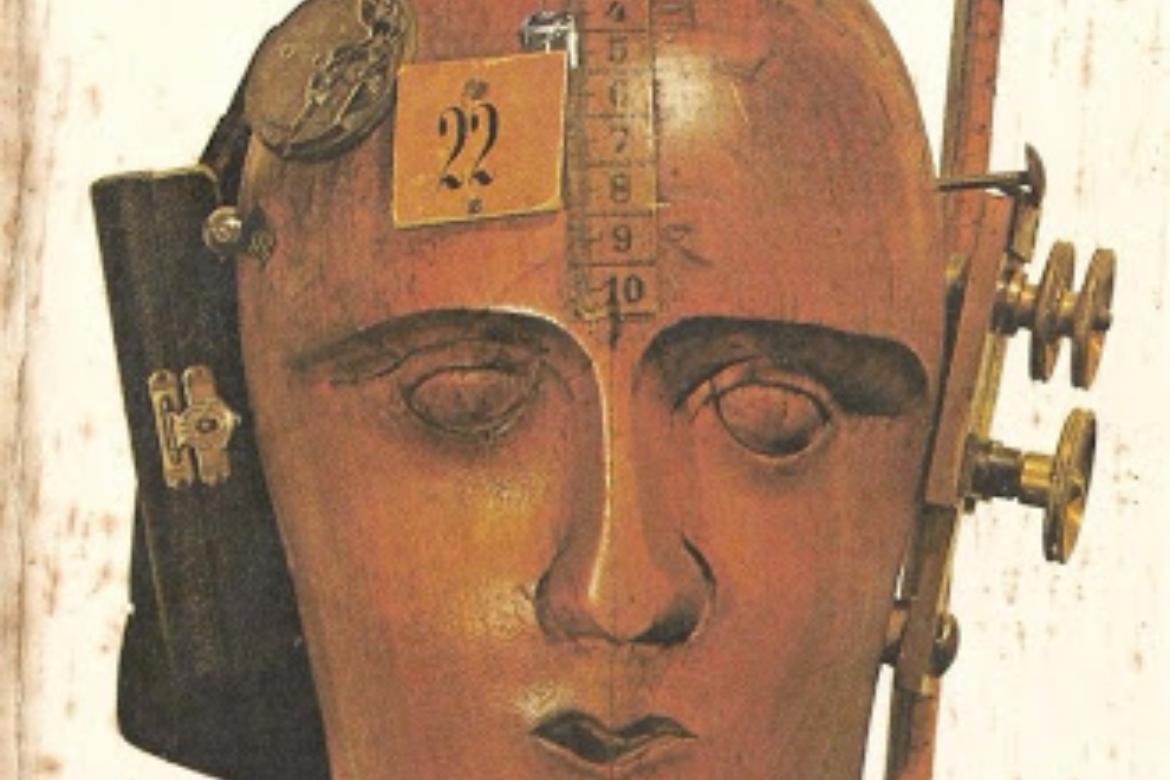Livrar-se de tudo o que é desagradável, em vez de procurar acomodar-se. Saber se é mais nobre para a alma sofrer os golpes de funda e as flechas da fortuna adversa, ou armar-se em guerra contra um oceano de desgraças, e, fazendo-lhes frente, destruí-las.
Classificar clássicos em notas avaliadoras é um desastre anunciado, além de soar presunçoso. Criticar tais obras, da mesma forma, também são receitas para o fracasso: um clássico sempre aparece inacabado, inexplorado, esperando um destaque em alguma de suas esquinas até então obscuras. Tratando-se de distopias – um tema fresco em 1932, mas completamente banalizado e destroçado em 2016 – Admirável Mundo Novo do inglês Aldous Huxley é, sem sombra de dúvidas, um clássico na acepção da palavra, tal como 1984 de George Orwell, apenas para ficar no par de pais do assunto. É com o devido respeito não só à obra, mas ao tanto que dela já foi dito, que proponho mais alguns parágrafos, com o espírito cético em relação a qualquer originalidade gratificante capaz de surgir daqui. Escrever, afinal, também é expelir temporariamente os próprios demônios.
Quando se pensa na obra-prima de Huxley logo se imagina uma sociedade controlada e alienada, cortesia da ironia do título. Mesmo quem nunca leu os dezessete capítulos dessa descrição futurista possui uma boa ideia do que se trata – o que dizer da popularidade de um título que já passeou de Zé Ramalho até Pitty, para o desespero de alguns? Já os que leram o livro geralmente saem com a sensação, geração após geração, de que deviam ter lido antes, muito pela intuição de que Huxley se trata de um profeta por ter colocado o dedo em feridas atuais em um escrito de mais de 80 anos. É aquele típico sentimento de euforia que normalmente gera algumas graves consequências: entramos no jogo do conceito de alienação, achamos que descobrimos o enigma deste mundo ou temos a certeza das perguntas essenciais a serem feitas. Certamente há problemas aí.
Essas três horas e meia de folga suplementar estavam tão longe de ser uma fonte de felicidade, que os trabalhadores se viam obrigados a gastá-las em fugas pelo soma.
Para além do já clichê da forma de controle do Estado sobre seus cidadãos – ou seja, da questão política isolada – Admirável Mundo Novo me parece guardar um aspecto mais interessante, uma perspectiva trágica e denunciadora da dor inerente ao acaso e à contingência ontológica da vida humana – a sabedoria de Sileno derramada na resposta amarga ao rei Midas. Entender que a fuga da solidão e da dor, retratada em pontos nevrálgicos da obra como no medicamento “soma” – todas as vantagens do Cristianismo e do álcool; nenhum de seus inconvenientes – tenha a ver intrinsecamente com os papéis da relação governo-cidadão, opressor-oprimido, soa-me, além de uma redução do escopo do livro em si, um perigo constante que a nossa época gosta mais de flertar do que outras. O brado pelo coletivismo, a diluição da dor individual que só um mar de gente é capaz de originar – em quaisquer tipos de manifestações – e a mediocridade, para usar a expressão de Tocqueville, que só a igualdade ama, são temas recorrentes que no século XXI tomaram conta das pautas daqueles grupos que se dizem conscientes, inalienados e protetores dos oprimidos, paradoxalmente.
A ideia de que a causa da eugenia, tão brilhantemente retratada, esteja nessa relação vertical entre governantes e governados, entre a lei e a obediência, acaba fechando a análise em um espectro político não só nocivo, por contaminar a apreciação da obra, como também naturalmente insuficiente. Huxley denuncia sim o tratamento político à liberdade, à igualdade e às filosofias que constantemente namoram ideologias, bem como ao progresso científico e a crença positivista nesse sentido, mas o valor literário do A.M.N. tem seu fundamento na visceral denúncia daquilo que o senso comum vê como valor de bem: o amor compartilhado a todos, o pacifismo, o saneamento do sofrimento, o sorriso, a transa livre, o bem-estar e tantas outras vírgulas que poderiam ser acrescentadas aqui. São alguns pontos intermináveis e atemporais na história ocidental, denunciadas recentemente em outros formatos: a liquidez que Bauman cita e a tragédia que Nietzsche retoma dos antigos – mais especificamente, a necessidade de Dionísio dividir o palco com Apolo – apenas para ficar em dois que estão na moda. A ideia presente em Macbeth, retomada pelo selvagem nos últimos capítulos, nunca feriu tanto a sensibilidade dos intelectuais e artistas como na era do mimimi dos direitos atual:
A vida é um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada.
É claro que o niilismo que permeia a obra é muito mais desinteressante em face da reclamação e do ressentimento capazes de agitar aquele homem de ação. O homem do subterrâneo, em termos dostoievskianos, que fique em sua aflição, como ficou o selvagem, aqui incapaz de privacidade. Uma questão clara na obra é a sutileza com que Huxley explora seus personagens, preferindo priorizar o universo em si com constantes apontamentos sobre seu conteúdo em detrimento de longas descrições psicológicas sobre o estado emocional de cada figura, por vezes sugerido, por vezes devidamente aproveitado. Bernard Marx, o protagonista, é aquele que “acorda” ao sentir a densidade do ar que compartilha com um bando de gente feliz, despreocupada e estável emocionalmente. Lenina Crowne é o típico exemplo da mulher respeitada nesta sociedade onde transar com todos é sinal de status – cada um pertence a todos. No meio da jornada dos dois ainda aparecem Linda, a ex-cidadã, eternamente ingênua e com expressão de felicidade imbecil, e seu filho, o selvagem que lê Shakespeare, o mais fascinante personagem utilizado por Huxley para escancarar o sentimento romântico angustiante daquele envolto em sorrisos, transas e alegria absoluta, na liquidez de vínculos e na prioridade de desempenho.
Não sei o que é que você quer dizer. Eu sou livre. Livre de gozar à vontade, de gozar o melhor. ‘Todos são felizes agora! ‘(…). Não, eu não compreendo nada. (…) E o que eu compreendo menos de tudo é porque você não toma soma quando tem essas ideias horríveis.
Outra questão básica me parece ser evitar aquele anacronismo chato. Algumas descrições imaginativas do autor podem não parecer grande coisa perto de um dia com a internet em mãos atualmente, mas o terceiro capítulo – sobre o culto orgiástico – trata, por exemplo, de modo estonteante o passado imaginado para aquele mundo. Um dos imensos méritos do escritor consiste na construção minuciosa e criativa do mundo utilitarista e pragmático que elevou a felicidade e a estabilidade ao patamar de divindades. Conhecemos o Processo Bokanovski, o culto ao senhor Ford, os complexos procedimentos de eugenia, o chiclete de hormônio sexual, a hipnopédia – palavras sem razão – e, principalmente, a soma, o medicamento perfeito. São nos primeiros capítulos que somos jogados neste mundo descrito com frases curtas e críticas ácidas e patentes:
O que o homem uniu a natureza é incapaz de separar: eles crescerão com o que os psicólogos chamavam um ódio instintivo aos livros e às flores.
A falta da linguagem poética tradicional, com memoráveis figuras de linguagem – diretamente atribuída ao selvagem leitor – cria uma sensação de estranhamento mais do que de admiração, propositalmente criada pela pena de Huxley que parece priorizar a crítica em face da literatura em certos pontos. Daí o ímpeto político chegar com mais força após uma primeira leitura. O desenvolvimento aos personagens que Orwell passo por passo faz na sua distopia clássica conta com melhor cadência e ritmo, o que denota preocupações distintas e tons diferentes em obras tão semelhantes. Huxley joga com inúmeros conceitos de uma forma mais livre e pontual. Há um progresso muito rápido na cronologia da história, com diversos cenários sendo utilizados nas passagens dos capítulos, que também variam entre os núcleos estabelecidos. O conceito de família, como exemplo, é destruído em falas de diversos personagens e em variados eventos, não se restringindo ao protagonista Bernard que demora para dar as caras e deixa de ser, ao final, o fio condutor da história – algo que não ocorre na jornada de Winston em 1984. Orwell, por sinal, é muito mais econômico em personagens do que seu colega britânico.
Mais do que notar a distopia no nosso presente por meio da mídia, das instituições, das indústrias, enfim, da alteridade, o mundo de Huxley é um convite ao cenário ético, mais frágil e próximo do desespero do que a dinâmica da culpa alheia/resistência consciente, geralmente bastião de uma tonelada de perspectivas perpetuadoras exatamente da corrida pela felicidade. Do sonho da aposentadoria estável ao direito ao poliamor, da rápida correria produtiva à invocação da consciência de classe, Admirável Mundo Novo vem como uma formiga atrás da orelha, um alerta quase silencioso de que o totalitarismo ou a sociedade de consumo, por mais que de fato oprimam, começam em nome do bem, daquela genuína busca de paz, amor e felicidade, para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Uma ditadura horizontal, sem muros e eficiente, iniciada na mediocridade. Quando até o Selvagem se torna Mister Selvagem, qual saída resta?
’O sentimento religioso compensará todas as perdas’. Mas não há para nós perdas a serem compensadas; o sentimento religioso é supérfluo.
Admirável Mundo Novo – Brave New World, 1932 – UK
Autor: Aldous Huxley
Editora no Brasil: Editora Globo
Tradução: Vidal de Oliveira
Páginas: 346